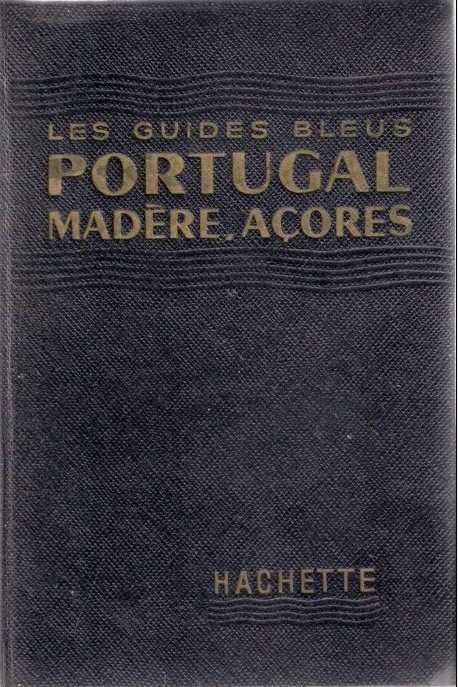|
Annemarie Schwarzenbach (1908-1942)
|
A
escritora, jornalista e fotógrafa suíça Annemarie Schwarzenbach (1908-1942) é
bastante conhecida entre nós, graças a uma retrospectiva da sua obra
fotográfica («Auto-Retratos do Mundo», no CCB, 2011) e à edição de dois livros,
com chancela da Tinta-da-china: Morte na Pérsia e Auto-Retratos do Mundo. Menos
conhecido é um breve livro intitulado Annemarie
Schwarzenbach em Portugal (1941, 1942), que recolhe os artigos por si publicados
aquando das duas visitas que realizou a Portugal. Coordenada por Gonçalo
Vilas-Boas (que também assina uma excelente introdução), a colectânea desses
textos, traduzidos por Maria Antónia Amarante, foi editada pelo Centro
Interuniversitário de Estudos Germanísticos (Faculdade de Letras, Universidade
de Coimbra).
Não
é este o momento mais adequado para falarmos da biografia extraordinária de Annemarie Schwarzenbach, limitando-nos a
reproduzir o primeiro artigo que publicou sobre Portugal: «Lissabon – neues
Leben in einer alten Stadt», saído em 19-III-1941 no Die Wetlwoche e traduzido entre nós, como se disse, num interessantíssimo
livro coordenado por Gonçalo Vilas-Boas.
Lisboa
– vida nova numa cidade antiga
Em
Lisboa, não se encontram muitas casas antigas que tivessem sobrevivido ao
terramoto de 1755. No entanto, com as suas ruelas empedradas subindo as
colinas, as largas escadarias, as fachadas barrocas das igrejas, lojas de
vinhos, cafés e pátios orientais, há na cidade um carácter de antiguidade
contemplativa; e a pétrea majestade de algumas frontarias palacianas com
pesados portais, o esplendor do faustoso Mosteiro de Belém conferem-lhe um
cunho de grandeza histórica enquanto a fresca brisa marítima e a doçura
calorosa do sol, derramando a sua luz sobre os jardins e as colinas cobertas de
oliveiras, lhe acrescentam uma nota de desembaraço e alegria de viver comum aos
portos meridionais. Não me deveria ter surpreendido quando, não faz muito
tempo, me dirigi ao endereço onde outrora funcionara a embaixada de um pequeno
país abalado pelo início desta Guerra Mundial e, fora da cidade, a grande
distância do centro, deparei com uma casa apalaçada que reunia todas estas
características. Na ruela dominada pelo ruído dos cascos de cavalos, das
peixeiras, das buzinas dos táxis, mal se abriam duas ou três janelas estreitas
na parede da casa amarelo ocre que, no seu impressionante silêncio, lançava, ao
sol do meio-dia, uma sombra indolente e solene. Algum tempo antes tinham-nos
precedido, entrando pelo portão, duas carruagens, uma de dois e outra de quatro
cavalos, dirigindo-se para a escadaria da entrada. Após a passagem, reinava
agora um silêncio e uma frescura quase monacais. Enquanto esperava pelo criado
que se apressara a subir a escada, tive ensejo de lançar um olhar ao pátio
interior da casa onde floresciam, lado a lado, narcisos, cactos e camélias de
um rosa profundo, de estilo mourisco. Depois, conduziram-me pela escadaria de
pedra acima, passando pelas cópias enegrecidas de quadros a óleo espanhóis e
romanos e, numa sucessão de salas luminosas decoradas com tapetes marroquinos e
de Baccarat, tapeçarias e gravuras francesas amarelecidas, fiquei à espera do
antigo embaixador que agora representa em Portugal a Cruz Vermelha do seu país.
Em Ancara, havia alguns anos, conhecera
o irmão que também era embaixador e tinha a paixão dos cavalos (…).
Antes de me despedir dele, revelou-me o
nome da ilustre família portuguesa em cujo palácio da cidade ele residia, por
assim dizer na qualidade de refugiado.
«Antes, a casa estava desocupada»,
explicou-me ele, «mas a catástrofe europeia que aniquilou todas as conquistas
da nossa civilização ou as converteu em armas contra a humanidade sofredora,
devolveu a Portugal um significado trágico no limiar de um mundo que está para
se descobrir.»
Esta conversa não foi a única do género
que tive em Lisboa. Nos dias de hoje, a secção nacional da Cruz Vermelha da
maioria dos países europeus tem representantes nesta cidade e o Comité Internacional
de Genebra enviou um funcionário seu no passado mês de Novembro. A 22 de
Dezembro, o primeiro barco da Cruz Vermelha largou do porto de Lisboa, rumo a
Marselha, com um carregamento de donativos. Um comissário especial para os
refugiados tem também um gabinete em Lisboa.
E isto é apenas um breve excerto do panorama
que é o novo significado de Lisboa. Atente-se no seguinte: este é o último
porto livre na costa europeia do Atlântico. Aqui aportam os paquetes da American Export Lines, a única companhia
que ainda assegura o tráfego entre a Europa e os EUA. Aqui aportam os
transatlânticos da América Latina e os navios de África e os clippers panamericanos. O Canal de Suez
está encerrado; o Mediterrâneo volta a ser mais um lago interior vigiado por
Gibraltar do que um mare nostrum.
Quem quiser chegar à Índia, tem de contornar o Cabo da Boa Esperança, como nos
velhos tempos, e o continente nego é imenso: os navios portugueses precisam de
mais de quatro semanas para ir de Lisboa até Lourenço Marques, em Moçambique.
Um amigo meu que foi enviado para o Egipto como observador militar ficou quase
um mês retido em Lisboa, sem arranjar forma de chegar ao Cairo. E ele tinha
passaporte e os vistos em ordem. Na grande sala de espera da Europa, estão
sentados milhares de viajantes, uns sem papéis e sem direito de cidadania,
outros sem dinheiro e quase todos sem uma autêntica esperança no futuro,
aventureiros a contragosto, filhos empobrecidos e deserdados do nosso
continente. A cidade do Infante D. Henrique, da qual, como de um recife, foram
outrora lançados ao Atlântico os pequenos veleiros dos intrépidos
descobridores, é hoje o ponto mais extremo da Europa de onde se espraia o olhar
para Ocidente. Mas a atmosfera é diferente e no porto, à largada dos navios
americanos, vêem-se muitas lágrimas.
Annemarie
Schwarzenbach