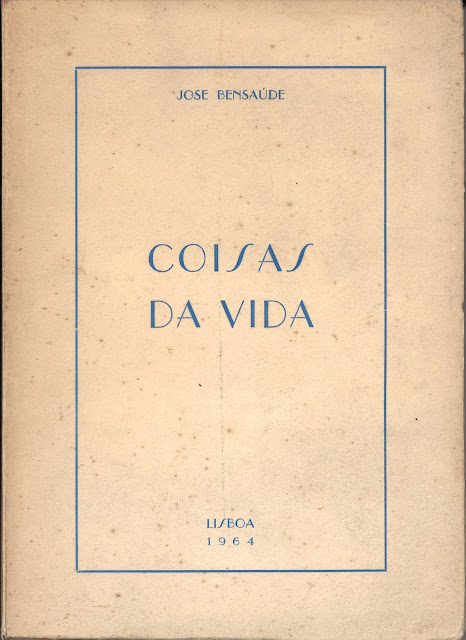Nesta rubrica «Memórias Perdidas»
tem-se falado, regra geral, de testemunhos de pessoas comuns, que não se
destacaram publicamente pelo que tenham feito em vida. Não é bem o caso de Memorial de Dom Quixote, do embaixador Eduardo
Brazão, publicado em 1976 pela Coimbra Editora, Limitada. A capa, pavorosa.
O livro, aliás, é bastante conhecido,
sobretudo entre os historiadores e, mais ainda, entre os historiadores que estudam
as relações entre Portugal e a Santa Sé. O autor, por sua vez, é detentor de
uma vastíssima bibliografia sobre história diplomática, pelo que não será
grande novidade falar deste Memorial de
Dom Quixote. Deixa-se a nota, em todo o caso, dado tratar-se de uma obra
que bem justificaria ser reeditada, sendo hoje uma raridade de alfarrabista – o
que é pena, atendendo ao sem-fim de livros idiotas que se publicam actualmente,
a uma cadência impressionante, sobre Salazar e o Estado Novo. Não sei como nem
por que meios, em 2014 o livro foi alvo de uma reedição que se vende na Amazon,
aqui,
mas julgo que não deu entrada nas nossas livrarias – pelo menos, não o vi.
Filho do actor de teatro Eduaardo
Brazão (cujas «memórias», aliás, compilou), Eduardo Brazão (1907-1987) foi
diplomata e homem de letras. Por vezes, a sua inclinação para as letras – ou,
melhor dizendo, para os estudos de história diplomática, amplamente
documentados – sobrepôs-se à vocação de representante de Portugal noutros
países. Bibliófilo voraz, logo nas primeiras páginas de Memorial de Dom Quixote Eduardo Brazão lamenta a perda da sua
magnífica livraria, uma parte afectada pelas cheias, outra por larápios da
Cidade Eterna.
É Roma que se constitui como o centro
da obra, narrando o autor-embaixador as sucessivas vezes que por lá passou. A
dado passo, curiosamente, Brazão diz não apreciar muito a capital italiana, mas
talvez essa sua afirmação não seja para levar a sério. Como aqueloutra em que
manifesta algum distanciamento face ao fascínio que a aristocracia exerce,
citando Almada Negreiros («Nem nobre, nem plebeu, sou eu») e Alfredo Pimenta
(«Antes ser que descender»). Ora, em todo o livro, página sim, página não, são
desfiados nomes da altíssima aristocracia romana, os seus esplendorosos
palácios, a sua convivência profana com os príncipes do Vaticano. E é visível
(logo na imagem da contracapa, por ex.) o orgulho com que Brazão exibia as suas
condecorações e troféus da exclusivíssima Ordem de Malta.
Tendo feito o liceu no colégio dos
jesuítas em La Guardia, na Galiza, uma opção típica em muitos jovens das
classes abastadas do seu tempo, Eduardo Brazão cursa Direito em Lisboa, mas o
fascínio da História e das Letras é mais forte do que a vocação jurídica. Cedo
se associa aos círculos da boémia literata de Lisboa, bem como a personalidades
marcantes da nossa vida cultural: Teixeira de Pascoaes, Afonso Lopes Vieira,
Caetano Beirão, João Ameal, Mário Beirão, Hipólito Raposo, Alberto de Monsaraz,
Manuel Múrias, Almada Negreiros, António Pedro e Francisco da Cunha Leão. Tudo
gente «das direitas», ou por lá perto. Uma excepção curiosíssima: entre os
amigos, Álvaro Cunhal, de quem Eduardo Brazão dizia conservar um lindo projecto
de vitral, assinado pelo autor, representando Nossa Senhora com o Menino Jesus
ao colo!
Data de 1925 a primeira vez que foi a
Itália, regressando a Roma e, 1941, como bolseiro do Instituto de Alta Cultura.
Depois, voltaria mais vezes, sempre cada vez mais alto na hierarquia dos
Negócios Estrangeiros. Uma certa ideia de «casta», a par da narrativa dos
mexericos das Necessidades, são características patentes na visão do mundo de
Eduardo Brazão. O livro, aliás, é uma excelente anatomia do corpo diplomático,
ontem como hoje.
Salazarista convicto, Brazão terá sido
próximo do Presidente do Conselho. Em diversos momentos, relata, em discurso
directo, conversas tidas com o ditador. Se são verdadeiras ou falsas, cabe aos
historiadores indagar. Mas que são interessantíssimas, são. Diz, por exemplo,
que Salazar considerou ser um erro histórico tremendo de Mussolini ter
envolvido a Itália na guerra. Isto ter-se-á passado em 1940, cinco anos antes de
Brazão ter assumido o posto de segundo secretário da nossa Embaixada em Roma,
naquela que foi a sua terceira passagem pela Cidade Eterna. Impressionou-o
muito a devastação de Itália, mas não se vivia mal. Pagos em dólares, os
diplomatas portugueses obtinham avultadas quantias em liras no câmbio do
mercado negro. Por ordem do embaixador, era o jovem Brazão quem tratava deste
obscuro negócio, feito nas traseiras da sumptuosa loja Bulgari, na Via
Condotti. A troca era feita com um dos patrões gregos da Bulgari, e permitia ao
pessoal diplomático viver à grande num país em escombros. Brazão, animado pela
paixão bibliófila, frequentava os leilões de livros, como um, memorável, onde
arrematou uma peça ou outra da biblioteca do antigo chanceler do Império alemão,
o príncipe Berhard Bülow.
Não se pense, porém, que este livro é
um repertório de mundanidades frívolas. Por exemplo, Brazão conta ao pormenor
os rituais diplomáticos do Vaticano, a hora solene em que apresentou
credenciais ao Papa Paulo VI. E, mais tarde, o tempo de brasa em que teve de
gerir a crise suscitada pela audiência concedida por Paulo VI aos líderes dos
três movimentos de libertação, já no consulado de Marcello Caetano. Que a Santa
Sé de há muito considerava insustentável a política portuguesa em África é algo
que se nota logo nas primeiras páginas do livro, onde também se refere o
histórico atrito entre a Propaganda Fide
e o Padroado português.
Para os que contestam o Acordo
Ortográfico, muito interessantes as observações de Brazão a este propósito,
dizendo que «é grave erro pensarmos em Portugal que continuamos a ser os mesmos
de cá e de lá do Atlântico». O Brasil, segundo ele, manterá e desenvolverá a
sua maneira de falar e de escrever – como todos os povos lusófonos, de resto –,
indiferente a convenções firmadas em papel ou a tentativas infrutíferas de
fixar, e impor, oficialmente uma ortografia comum. Isso foi patente aos olhos
de Brazão nos múltiplos contactos que teve com os seus homólogos brasileiros,
entre os quais o grande Maurício Nabuco, autor de um livro cujo título diz
tudo: Drinkologia. Receitas de cocktails, ilustradas – note-se – por desenhos
do pintor Giorgio De Chirico.
De permeio, histórias deliciosas, de
Roma e Lisboa. No Chiado, à porta da Bertrand, Alberto Oliveira comentava com
um amigo a nomeação de alguém para um alto cargo internacional; tendo dito que
se tratava de uma nulidade para o posto invejado, observou, indignado: «Não,
isso não – para medíocres estamos cá nós!». Logo de seguida, uma sagaz reflexão
de Brazão sobre a nossa diplomacia: «O perigo na carreira diplomática
portuguesa é (…) o brilho excessivo, as evocações históricas dum passado morto,
altamente prestigiado mas que só continuado nos poderia dar força e peso junto
dos demais».
Adiante. Pelo caminho, Brazão passa
pelo local onde mataram e expuseram o cadáver de Mussolini e sua companheira, a
Petacci. Sente-se horrorizado («ali estiveram ignobilmente expostos para que a
multidão os contemplasse na miséria humana»). Atravessa a Suíça no caótico
pós-guerra, país que o surpreende pela relojoeira organização: «os comboios
chegam à hora marcada e os porteurs
nas gares não nos insultam (…), não se vendo qualquer indício de pobreza nem de
desespero. Maravilhosa Suíça, ajuizado país!». Só lamenta os preços: «o custo
de vida é no entanto altíssimo». Passando por França, insurge-se contra os jornais
que condenavam a comutação de pena de morte aplicada ao marechal Pétain («por
aqui está tudo bolchevizado, amoralizado»). Depois, Espanha, onde Brazão
enaltece Franco, defendendo-o dos seus inúmeros inimigos. «Por toda a parte
atira-se a Franco como um cão raivoso», diz; e, no entanto, em Espanha via-se
«tudo tão em ordem, cores tão garridas, mulheres tão vistosas… e bom pão, vinho
forte, comida farta no pequeno restaurante da Alfândega!». «Tudo isto que foi
conseguido com inteligência e prudência não será destruído dentro de pouco
tempo?», interroga-se o diplomata luso.
Chegado a Lisboa, avista-se com
Salazar, a quem conta os horrores da Europa devastada. Respondeu o chefe do
governo: «todos os que vêm do estrangeiro trazem as mesmas impressões sobre as
terríveis consequências desta guerra que terminou. Era preciso que aqui se
soubesse melhor». Em face disto, Brazão apresenta uma proposta ingénua: «Porque
não manda V. Exª, pagos pelo Estado, grupos de recalcitrantes a ver o estado
dos países que não souberam libertar-se da guerra?». Salazar riu-se ante a
candura do seu diplomata.
Brazão
encontrar-se-á pouco depois com D. Duarte Nuno, numa conversa em que este lhe
diz apoiar «incondicionalmente Salazar» e não ambicionar o poder em Portugal. Salazar,
em contrapartida. Lamentava o escasso apoio dos monárquicos ao Estado Novo…
Num breve interregno da sua carreira
diplomática, Brazão trabalhará no Secretariado Nacional de Informação (SNI),
experiência que detestou, pelo ambiente de intriga aí vivido. O diplomata não
era «dos deles», pertencia a outra casta, do mesmo modo que, assevera Brazão,
António Ferro nunca foi amado nas Necessidades nem foi feliz como diplomata em
Berna e em Roma. Na capital italiana, organizou um dia um desfile de trajes
tradicionais portugueses, em que cada qual ia identificado pela sua região de
origem: algarvio, transmontano, minhoto e por aí fora. Acontece que «minhota»
era a expressão em italiano para mulheres
da vida, facto que motivou uma senhora, algo desinformada, a exclamar:
«Então em Portugal as prostitutas são obrigadas a vestir um uniforme?»
O livro está repleto de histórias como
esta, bem como de observações sobre personalidades com quem Brazão se
encontrava, como Jacques Maritain (na altura, embaixador de França em Itália e
feroz anticomunista), Giulio Andreotti, que Brazão classifica como «um dos
políticos mais honestos e sãos da Democracia Cristã» (!), o general De Gaulle,
o príncipe Rainier e Grace do Mónaco («ainda mais actriz de cinema que Princesa
– há situações que não se aprendem ao espelho», diz, com um laivo de snobismo,
o filho do actor de teatro Eduardo Brazão…). Bizarra, no mínimo, era a
inclinação de Sukarno, da Indonésia, por meninas jovens. Conta Brazão que, ao
chegar a Portugal, Sukarno terá pedido ao Protocolo «que lhe enviasse meninas, muitas meninas impúberes pois na sua vasta colecção não conhecia mulheres
portuguesas!». Ao saber do facto, Salazar ficou incrédulo. Só faltava
acrescentar que, segundo Brazão, quando passara em Itália o presidente Sukarno
pretendeu, a todo o custo, conhecer intimamente Gina Lollobrigida…
Em Roma, Brazão teve de lidar também
com a pretensão de «uma megalómana» que se dizia filha bastarda de D. Carlos. A
conhecida Maria Pia, imagine-se, ser-lhe-ia apresentada num cocktail na Embaixada do Líbano por…
Agostino Casaroli. Os meandros do Vaticano são insondáveis. Noutra ocasião,
Brazão apontava Roncalli como futuro Papa, sucessor de Pio XII, ao que um seu
colega da embaixada portuguesa replicou, cortante: «ora, ora, esse conheci em
Ankara, não vale dois caracóis!...». Seia eleito Papa, tomando o nome de João
XXIII.
Brazão não o conheceu bem, ao contrário
de Montini, futuro Paulo VI, de quem era amigo há muitos anos – o que tornou
ainda mais difícil a gestão da «crise» aberta pela audiência aos líderes
africanos, que o autor do Memorial de Dom
Quixote classifica, à maneira da época, como «terroristas».
Porém, nem tudo foram espinhos na sua
passagem por Roma, aqui retratada a traços muito largos. A dada altura, o
Ministro dos Negócios Estrangeiros, Marcello Mathias, disse-lhe: «Meu caro
Brazão, Roma é uma terra maravilhosa, cheia de lindas mulheres. Distraia-se… e
não me mande mais problemas para eu resolver!...». Dom Quixote não se fez
rogado, À tarde, ao chegar à Cancelaria, mandou reunir todo o pessoal e
decretou que, dali em diante, só se trabalharia na parte da manhã. Tardes
livres, dolce fare niente, em gozo de
Roma e dos seus encantos.
António Araújo