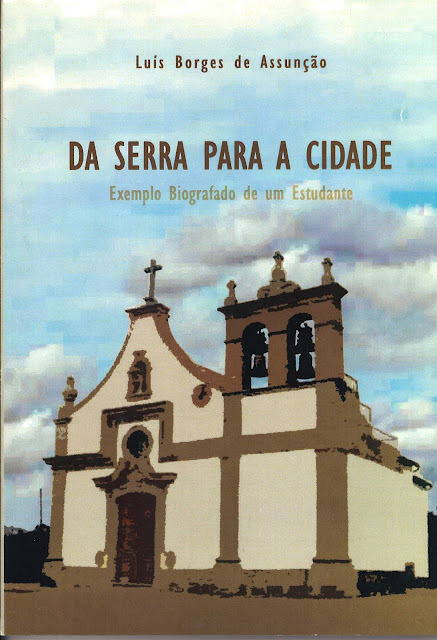No outro dia, no carro para a escola, na rádio, a notícia dos vinte e cinco
anos da morte de Freddy Mercury. Estava nevoeiro e frio, como quando cheguei à
escola, segunda-feira, há vinte e cinco anos, também com catorze, tinha morrido
o Freddy Mercury, na véspera. Com SIDA.
Semanas antes tinha sido Magic Johnson a anunciar que tinha sida. De um dia
para o outro, tinham todos SIDA. Não havia internet. Como é que se sabiam as
coisas? Como é que se sabia que Freddy tinha morrido? Ou o que queria dizer
sida? Os meios de comunicação davam notícias, as pessoas recebiam-nas,
acreditavam, e transmitiam-nas umas às outras. Lembro-me de ter ouvido na
rádio? Onde? E se não tivesse ouvido, teria ele ficado vivo uns dias mais?
Meses, anos? (Um aparte: os Queen eram parte substancial do meu dia, do quarto,
da alma).
Não sabiam quem era. Disse-lhes o que sabia, do que fui lendo, alguns
poucos factos que retive, um pai austero empregado das alfândegas em Zanzibar
(mas podia não ser das alfândegas, podia não ser austero), a compra de uma
guitarra em segunda mão em Londres, ténis em Ibiza, o início dos Queen, a
recusa inicial dos sintetizadores, os complexos com a aparência física, o
sucesso. Não lhes contei aquela que era a minha recordação mais forte de todos
os livros e revistas que li, alguns com a idade delas: festas em que anões
transportavam na cabeça bandejas de prata com cocaína. Esse facto, que tinha
lido num livro mal escrito, orgulhava-me de sabê-lo e achava que poucos o
saberiam. Hoje, no Google, há centenas de milhares de referências.
Mas tal como Freddy Mercury tinha morrido, e era verdade, também a
vocalista das 4 Non Blondes morreu várias vezes e, vi agora, continua viva com
uma carreira de sucesso na produção musical. Como é que se sabia que ela não
tinha morrido, se as pessoas diziam que ela tinha morrido?
A confirmação de factos podia ser feita recorrendo a um recorte de jornal,
normalmente um instinto de preservação que raramente servia a sua função (onde
estavam os recortes, quais, por que ordem, os cantos amarelados a enrolarem, a
tinta a esvair-se, porque é que eu recortei isto?). No fundo, toda a
confirmação era oral. É impressionante como, até há quinze, vinte anos a
cultura era predominantemente oral e paroquial (perguntas em família, em
amigos), sim, claro, a prensa de Gutenberg, os livros, as enciclopédias, tudo
certo, mas as pessoas não andavam com a enciclopédia luso-brasileira no
autocarro, nem tinham a biblioteca de Alexandria na sala. Eu tinha a certeza
que uma coisa tinha acontecido porque me lembrava e ou alguém me dizia.
Hoje não é assim. Quando na rádio as minhas filhas ouviram dos vinte e
cinco anos da sua morte, podem saber tudo o que quiserem sobre o Freddy
Mercury, até enquanto eu lhes conto, na velha tradição oral, quem foi, como
morreu, o que fez. Quando explico uma coisa aos meus alunos, ou relato um
facto, sei que uma parte está a verificar o que digo no computador ou no
telefone. Por um lado, dependemos menos das nossas memórias (que efeitos vai
ter no médio prazo?), mas existe aí fora toda a nossa memória, sem lugar ao
esquecimento, nem do que está porque foi, nem do que está mas não foi.
Uma cultura que se baseia na possibilidade constante da confirmação de
factos, de reputação, é uma sociedade que será menos materialista: sentindo que
pode sempre ter tudo, não precisa nunca de ter nada. Começou com a música, os
filmes, livros, passará para os automóveis em breve. Mas no conhecimento, no
consumo de notícias, a coisa tem o lado negro da notícia falsa, a tal da
pós-verdade, que redundará numa escolha entre verdades, se calhar na existência
de duas verdades, simultâneas, opostas, ambas com os seus processos de criação,
divulgação e confirmação (hoje) permanente.
Em 1984, os Queen lançam, I Want to Break Free, uma música de
John Deacon, o discreto baixista, que tinha escrito uma música de revolta e de
libertação pessoal (nos Queen também conviviam duas verdades, Freddy excessivo,
e John tímido, casado ainda hoje com a mesma mulher, seis filhos). No vídeo de I
Want to Break Free, que ficou famoso, os membros da banda, vestidos de
mulher numa casa parodiavam a telenovela Coronation Street. Mas a
música transformou-se imediatamente num hino da resistência às ditaduras por
todo o mundo, da África do Sul à América Latina. Por isso, quando Freddy Mercury
subiu ao palco do Rock in Rio em 1985 vestido de mulher para cantar a música,
foi assobiado e apedrejado por quem achou isso uma ofensa ao hino de libertação
política. A mesma música, duas verdades. E os cubanos, continuarão a ter de
cantar I Want to Break Free? Depende de quem lermos hoje. João
Taborda da Gama
João Taborda da Gama
(originalmente publicado no Diário de Notícias; republicado no Malomil graças à generosidade do
autor: um abraço, João!)